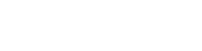Conhecido como padre Paco, Pe. Francisco Almenar Burriel nasceu em Valência, Espanha. A itinerância marcou sua vida desde pequeno, tendo morado em quatro cidades diferentes até os sete anos. Apaixonou-se pelo Brasil ainda na adolescência e mudou-se para cá aos 20 anos, já como jesuíta, para integrar a antiga Província do Nordeste. Hoje, em missão em Assis Brasil, município do Acre, Pe. Paco autodenomina-se um “retirante nordestino com sotaque espanhol”. Sua vocação para caminhar ao lado dos excluídos levou-o a conhecer diversas realidades, como a seca no sertão, os desafios das fronteiras do País e as lutas de indígenas que reivindicam suas terras. Conheça um pouco mais da história desse jesuíta em sua entrevista ao informativo Em Companhia.
Conte-nos um pouco da sua história de vida.
Eu nasci na casa da minha avó, em Valência (Espanha). Era 16 de novembro de 1949. Três dias depois, fui batizado com o nome do meu avô, Francisco de Assis, sendo meus pais, Maria Teresa e Ramóm, da Ordem Terceira franciscana. O apelido espanhol Paco é mais um resumo do nome Phrancisco, dos manuscritos da Idade Média.
Sou o segundo filho de quatro, três meninas e eu, menino: Teresa Maria, Paco, Elena e Maria Amparo. Até os seis anos, morávamos numa pequena cidadezinha do interior, meu pai era notário (tabelião) e atendia várias vilas ao redor. Agradeço imensamente a Deus o contato com a natureza e com as pessoas do interior.
Não éramos ricos, mas nunca passamos fome. Minha mãe cozinhava com carvão ou serragem e meu pai trabalhava bastante para poder nos manter. Depois, fomos mudando de cidade até chegarmos mais perto de Valência, onde, com sacrifício, conseguiram que eu estudasse no Colégio dos Jesuítas, dos 7 aos 17 anos; e minhas irmãs, no Colégio das Carmelitas. Com sete anos, Valência já era a quarta cidade em que morei (será, por isso, a minha vocação itinerante?).
Como conheceu a Companhia de Jesus? Por que decidiu ser jesuíta?
Foi algo bastante simples, como são os caminhos de Deus: com 15 anos de idade, no colégio, passou pelas salas de aula um jovem jesuíta, Arturo Jordán, que vinha para o Brasil. Foi uma palestra de 40 minutos e ainda me lembro do título: Brasil, país de contrastes. De um lado, colocou a beleza e a riqueza do Brasil: a natureza, as culturas, a tecnologia (TV em cores!); do outro lado, as desigualdades e as injustiças: as favelas, a opressão da ditadura militar. Realmente, me impactou. Comecei a pensar na idéia de estudar medicina e viajar ao Brasil, trabalhar alguns anos como voluntário, ajudando pessoas necessitadas. Mas, no último ano do colégio, decidi ingressar na Companhia de Jesus para vir ao Brasil pelo resto da minha vida.
Desde o primeiro dia do Noviciado, eu pedia ao santo padre Mestre Emílio Anel para vir ao Brasil e ele respondia: “tem que estudar primeiro e se preparar”. No mês seguinte, o mesmo pedido e a mesma resposta. No fim, ele me disse: “Quer terminar sua formação e estudos no Brasil?”. Eu disse: “É claro!”. “Pois vai, vai!”, respondeu. E, depois de resolver a papelada para conseguir o visto permanente, cheguei ao Brasil, em Recife (PE), com 20 anos de idade, à Província do Nordeste.
Quais as experiências mais marcantes o senhor vivenciou durante sua formação como jesuíta?
Os meses de experiência fora do Noviciado. Fui enviado a dois bairros pobres da periferia da cidade de Zaragoza (Espanha). Meus olhos, mente e coração foram abrindo-se ao mundo dos pobres e explorados. De pequeno, já conhecia a pobreza rural, mas não era consciente. Comecei a questionar-me e a querer tomar partido deles.
No ano de Filosofia, em São Paulo (SP), aos fins de semana, o companheiro Masip e eu íamos a uma vila de pessoas trabalhadoras e exploradas, em Cajamar (SP). Também visitávamos um hospital e um orfanato de crianças. Todas essas pessoas marcaram-me profundamente.
Ainda em 1971, viver em uma pequena comunidade, com seis companheiros estudantes, com o padre Luciano Mendes de Almeida, foi uma experiência de amigos no Senhor que me marcou.
O Magistério foi em Trairí (CE), onde o padre Tomás Feliu, jesuíta, era pároco. Visitei as comunidades da paróquia, levando um quadro-negro e cadernos para as crianças aprenderem a ler e a escrever, ajudadas por pessoas que sabiam mais ou menos. Também conheci a realidade terrível da seca e da cerca (opressão e dependência dos coronéis). Meu coração ficou marcado para sempre.
Nos três anos de Teologia, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), tive a graça de Deus de conhecer a Favela da Rocinha. Aos fins de semana, eu ia com o padre jesuíta Cristiano Camermann e duas irmãs celebrar a Eucaristia e animar a comunidade com o violão. Depois, iniciamos uma escolinha de alfabetização e eu ia ajudar com colegas de faculdade e leigos. As visitas e o carinho, a acolhida e a confiança de tantas pessoas faveladas – a maioria, nordestinas – fizeram-me o teólogo mais feliz do mundo. Até ganhei a afilhada número 1, Giselle, talvez da família mais necessitada que eu conheci na favela, mas que, agora, pelo esforço e pela graça de Deus, vivem muito melhor.
O senhor esteve, por muito tempo, trabalhando no sertão nordestino. Como foi essa vivência?
Depois que fui ordenado, com 26 anos, fiquei um ano como vigário na paróquia de Beberibe (Recife/PE), cujo pároco era meu companheiro e irmão Salvador Soler. Realizei meu sonho de morar junto aos pobres, numa favela a meia hora da paróquia, junto com outro companheiro jesuíta, Miguel Espar, padre operário.
Mas o provincial perguntou-me se estava contente com a missão atual e respondi que gostaria de trabalhar no interior, pois queria conhecer as raízes das pessoas que vão para as favelas das cidades do Rio (RJ) e de Recife (CE). Fui conhecer Crateús, interior do Ceará, e foi “paixão à primeira vista”: 750 Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) com apenas 10 padres e 16 irmãs; todos, começando pelo bispo Dom Fragoso, comprometidos com a luta dos pobres – reforma agrária, sindicatos, vítimas da prostituição, situação de seca, religiosidade popular e espiritualidade.
Lá fiquei, durante 18 anos, só eu de jesuíta, mesmo sempre insistindo para que enviassem outros companheiros. Como eu queria conhecer e partilhar a vida das pessoas mais de perto, pedi a Dom Fragoso e a Assembléia Diocesana de Pastoral para não assumir uma paróquia e eles acolheram meu desejo. Durante 15 anos, fui padre-agricultor sindicalizado, plantando milho e feijão para comer e partilhando vida e carinho com tantas pessoas que me acolheram como um filho e um irmão.
O que o motivou a atuar junto aos ribeirinhos, indígenas e marginalizados urbanos?
No ano 1996, o provincial do Nordeste enviou-me para Manaus, Amazônia. E, como jesuíta, obedeci, com alegria, mas com os olhos cheios d’água ao sair de Crateús.
A destinação não era para trabalhar com marginalizados urbanos, mas para acompanhar os seminaristas diocesanos! Na minha aceitação, pedi ao provincial para morar com os pobres e ele aceitou. Os companheiros jesuítas de Manaus foram tão compreensivos que, quando lhes contei meu desejo, disseram: “Bem, contanto que você apareça no seminário cada dia, pode morar conforme seu desejo”. Foi o maior presente do Pai! Fiquei morando numa palafita do Igarapé do 40, junto a uma família: Mundica e José do Socorro, com seis filhos, que me acolheram felizes – e eu mais ainda.
Ao contrário do que imaginei, o acompanhamento dos seminaristas foi uma bênção de Deus! Fiquei muito amigo e aprendi muito com eles, e os jovens indígenas me escolheram para acompanhá-los.
Como estava recém-fundada a Equipe Itinerante, iniciada com jesuítas e, pouco depois, integrada por religiosas e leigas, fui convidado a ser parte dela em 1999. Ficamos morando em palafitas (condição que pus para morarmos juntos), mas todos e todas acharam bom e fomos felizes por muitos anos.
No início, éramos seis: três jesuítas, duas religiosas de diferente congregação e uma leiga. Foi, então, que formamos três subequipes. Duas itineravam mais pelas comunidades indígenas, duas ficavam na cidade itinerando pelas áreas de ocupação. Irmã Odila e eu íamos itinerar pelas comunidades ribeirinhas. Passávamos de mês inteiro fora, dois ou três dias em cada comunidade: visitando cada família, escutando, convivendo, aprendendo, reunindo a comunidade à noite para partilhar suas vidas, trabalhos, desafios, falhas, esperanças e celebrando a Eucaristia, na qual colocávamos com símbolos e desenhos tudo o partilhado nos dias anteriores da vida, da fé e da luta. Depois, voltávamos para casa, nos repor, partilhar, conviver e, duas ou três semanas depois, já estávamos saindo para outra itinerância. Dos 12 meses do ano, cerca de oito itinerando fora de casa.
Atualmente, qual a sua missão na tríplice fronteira? Quais os principais desafios desse trabalho?
Depois de oito anos e meio na Equipe Itinerante, fui enviado a Moçambique (África). Ao regressar, fui reenviado por mais quatro anos à Equipe Itinerante. Já tinham duas pessoas dessa Equipe nas três fronteiras, Colômbia-Peru-Brasil, e nosso sonho era estar presente nas outras fronteiras Bolívia-Peru-Brasil. Viemos, Irmã Joaninha e eu, e ficamos morando do lado peruano. Atualmente, estou do lado brasileiro, em Assis Brasil (AC).
Sou colaborador da paróquia que têm umas 38 comunidades no interior; e também continuo colaborando com a Equipe Itinerante, realizando algumas itinerâncias, mais pelas aldeias indígenas Manchineri, Jaminawa ou Pyiro-Ine que vivem nesta região, de um e outro lado das fronteiras.
Desafios que existem em outros lugares, aqui, tornam-se gigantes, mas continuamos aprendendo das formigas e vamos avançando. Alguns deles são: as distâncias para visitar aldeias indígenas e comunidades, assim como meios de transporte adequados, o fluxo intenso da mobilidade humana, a relação das mineradoras, madeireiras e empresas ligadas à pecuária com os povos indígenas, o tráfico de pessoas e de drogas, a violência nas fronteiras e a confusão das Igrejas que não se unem por questões sociais.
Espero que com estas palavras mal articuladas que falei, pela força e luz do Espírito Santo, algumas pessoas sintam-se chamadas a virem partilhar a nossa vida nestas e noutras “fronteiras sem fronteira” amazônicas. Vale a pena!